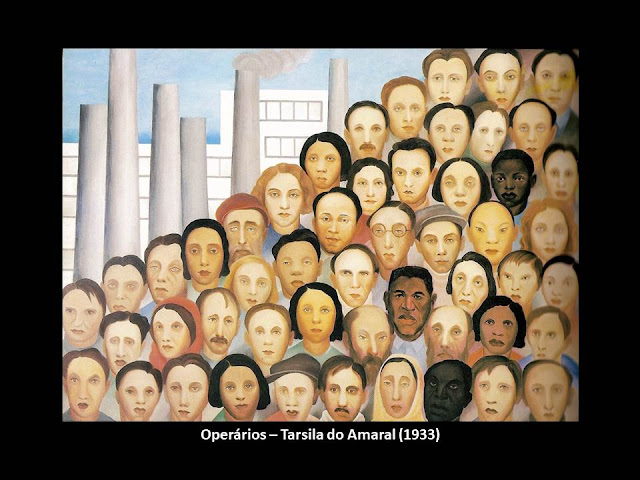A ruptura com a história única
A ruptura com a história única
Por Alessandra Leles Rocha
Diz o
provérbio que “quem conta um conto
aumenta um ponto”. Verdade seja dita, isso não se fundamenta à toa; afinal,
as narrativas decorrem da perspectiva de quem as conduz. Há muito envolvido nisso.
Lembranças. Emoções. Sentimentos. Questionamentos. Expectativas. Poder... Portanto,
por mais empatia que se possa dispensar ao se fazer um registro sobre algo que
diz respeito aos outros, não se esqueça de que ninguém fala melhor de si do que
a própria pessoa.
Pensando sobre
isso, percebo cada vez mais a importância do movimento Pós-Colonialista na
dinâmica mundial; sobretudo, no âmbito da literatura, porque durante muito
tempo, a sociedade esteve, de certo modo, limitada à visão colonialista. O que
significa dizer que o ponto de vista europeu sobre as terras e povos não
europeus por eles dominados era a narrativa existente. Eram tempos da história
única.
Com a
literatura Pós-Colonial e, mais recentemente, a Pós-Colonialidade, duas
dimensões emergiram para trazer aos colonizados a materialização da sua voz, da
sua perspectiva dos fatos. A primeira, então, diz respeito à apresentação das
marcas profundas da exclusão e da dicotomia cultural, durante o domínio
imperial e todas as transformações e conflitos advindos disso. Já a segunda, discutida
a partir do final do século XX nos círculos acadêmicos latino-americanos dos
Estados Unidos da América, diz respeito ao reconhecimento da situação de
subalternidade de comunidades indígenas, asiáticas e México-americanas, dentro
daquele país 1.
De repente,
nos damos conta do quão indiferente somos à dinâmica do cotidiano ao nosso
redor; de modo que, não percebemos as sutilezas ferinas que se escondem por
detrás dos discursos que nos chegam de diferentes formas, incluindo a cultura
e, principalmente, a literatura.
Segundo Coll
(2002, p.16-17), “vivemos durante séculos
influenciados pela ilusão da miscigenação sem conflitos, mascarando uma
realidade onde a dominação e a discriminação racial diminuem consideravelmente as
possibilidades de realização cultural plena para uma enorme parcela da população.
População, aliás, que nunca deixou de lutar pela formação de uma sociedade na
qual os direitos de minorias sejam respeitados e incorporados a uma identidade
nacional reconhecidamente plural. Como resultado dessa luta, vivemos hoje um
importante processo de democratização das relações sociais no Brasil, e um
cenário político que certamente irá exigir a incorporação de uma série de
demandas reprimidas. Devemos aproveitar a oportunidade para promover o
incentivo ao diálogo, ferramenta fundamental para a construção de uma cultura
da paz, que se solidifica com base na interculturalidade” 2.
Como a
língua vai além de um conjunto de signos e de regras, sendo atravessada por
aspectos da ordem do físico, do sociocultural e do psicológico, a cultura
obrigatoriamente será modificada e enriquecida continuamente, ainda que a revelia
de uns e outros. Isso significa que Língua, Identidade e Cultura estabelecem
uma relação de interdependência tão forte, ao ponto de que “[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre
indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos
da vida cotidiana, nas relações de caráter político etc. As palavras são
tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas
as relações sociais em todos os domínios. É, portanto claro que a palavra será
sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais,
mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não
abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados”
(BAKHTIN, 1997, p.41 apud COELHO; MESQUITA, 2013, p.33) 3.
Portanto,
segundo Hall (2000) 4, no
mundo moderno as culturas nacionais se constituem em uma das principais fontes
de identidade cultural; pois, sem um sentimento de identificação nacional o
sujeito moderno experimentaria um profundo sentimento de perda. Desse modo, as
identidades nacionais são formadas e transformadas no interior de um sistema de
representação.
É isso que
explica uma nação ter poder para gerar um sentimento de identidade e de
lealdade. As culturas nacionais ao produzirem seus sentidos sobre “a nação”
constroem identidades; portanto, as diferenças entre as nações residem nas
formas diferentes pelas quais elas são imaginadas.
É por isso
que não basta um olhar crítico para a Globalização do ponto de vista do
capital, do mercado de trabalho, das relações comerciais, da distribuição de
consumo de bens e serviços. É preciso entender que todo o nosso processo de
desenvolvimento socioeconômico esteve atrelado a um movimento servil a “padrões
colonizadores” que imperam sobre o mundo desde o século XV; de modo que os
contatos entre as pessoas e suas culturas – suas ideias, valores, crenças e
modos de vida – foram sendo subjugados e dicotomizados com um rigor sem precedentes.
Isso explica, por exemplo, a construção da segregação das minorias nas
sociedades colonizadas e a lamentável perpetuação da objetificação de determinados
grupos sociais até os dias atuais.
Assim, segundo o romancista,
dramaturgo e historiador russo, Alexander Issaiévich Soljenítsin, “uma literatura que não respire o ar da
sociedade que lhe é contemporânea, que não ouse comunicar à sociedade os seus
próprios sofrimentos e as suas próprias aspirações, que não seja capaz de
perceber a tempo os perigos morais e sociais que lhe dizem respeito, não merece
o nome de literatura: quando muito pode aspirar a ser cosmética”.
Em linhas gerais, isso significa que
ela deve ser sempre um veículo para a ruptura com a história única, um caminho de aprendizado, no qual se transporta além dos limites naturais do entretenimento para conduzir o leitor em um processo de autorreflexão profundo e irreversível, capaz de torná-lo autor e protagonista de sua história.
1 BONNICI, T. Introdução ao estudo das literaturas pós-coloniais. Mimesis, Bauru, v.19, n. 1, p.7-23,
1998.
SANTOS, E. P. dos. Pós-Colonialismo e
Pós-Colonialidade. In: FIGUEIREDO, E. (Org.). Conceitos de Literatura e Cultura. 2 ed. Niterói: EdUFF; Juiz de
Fora: EdUFJF, 2010. p.341-365.
2
COLL, A. N. Propostas para uma
diversidade cultural intercultural na era da globalização. São Paulo,
Instituto Pólis, 2002. 124p. (Cadernos de Proposições para o Século XXI, 2)
3
COELHO, L. P.; MESQUITA, D. P. C. de. Língua, Cultura e Identidade: Conceitos
intrínsecos e interdependentes. ENTRELETRAS, Araguaína/TO, v.4, n.1, p.24-34,
jan./jul.2013.
4 HALL, S. A identidade cultural na Pós-Modernidade. 4a ed. Rio de Janeiro: DP&A,
2000.